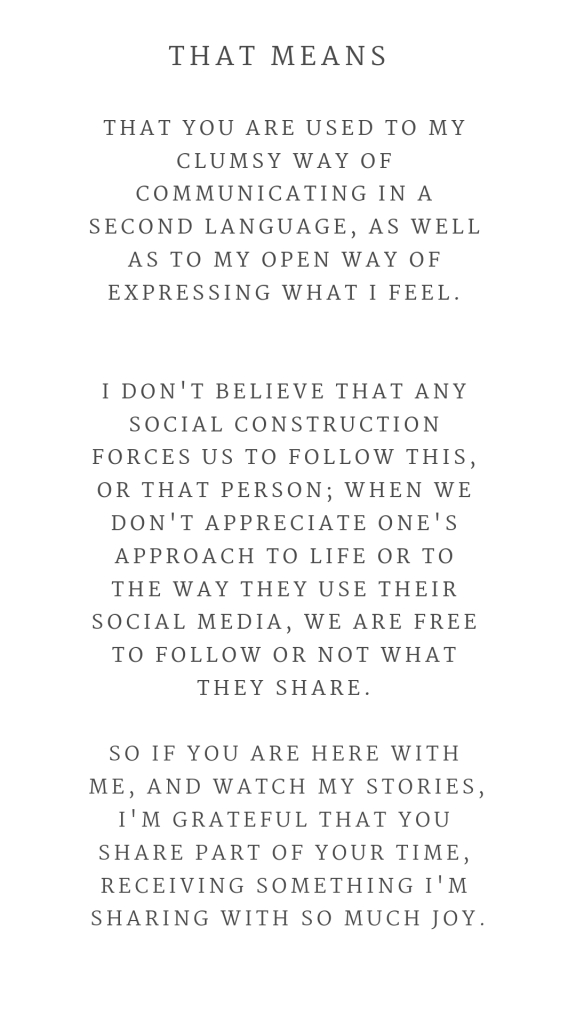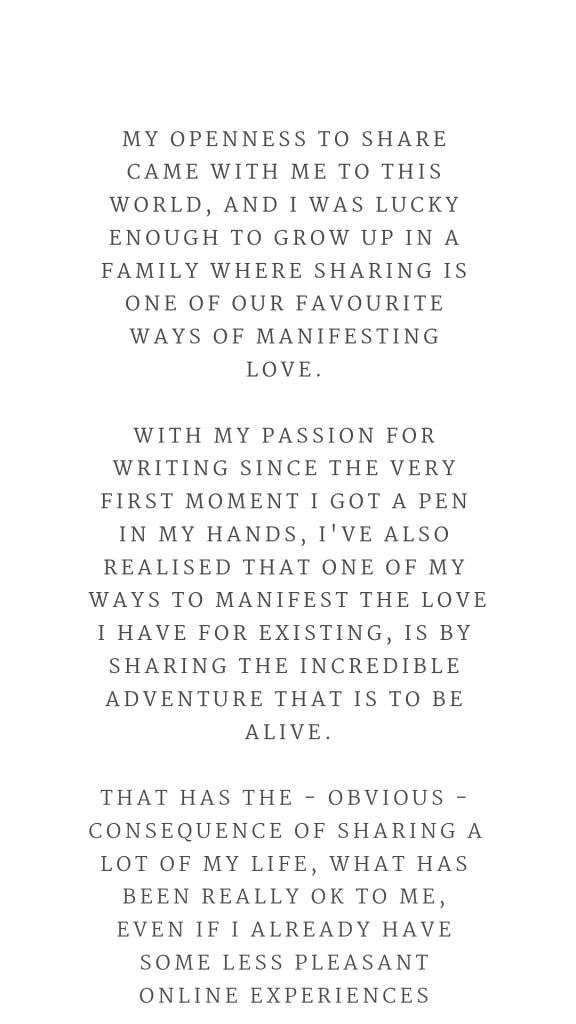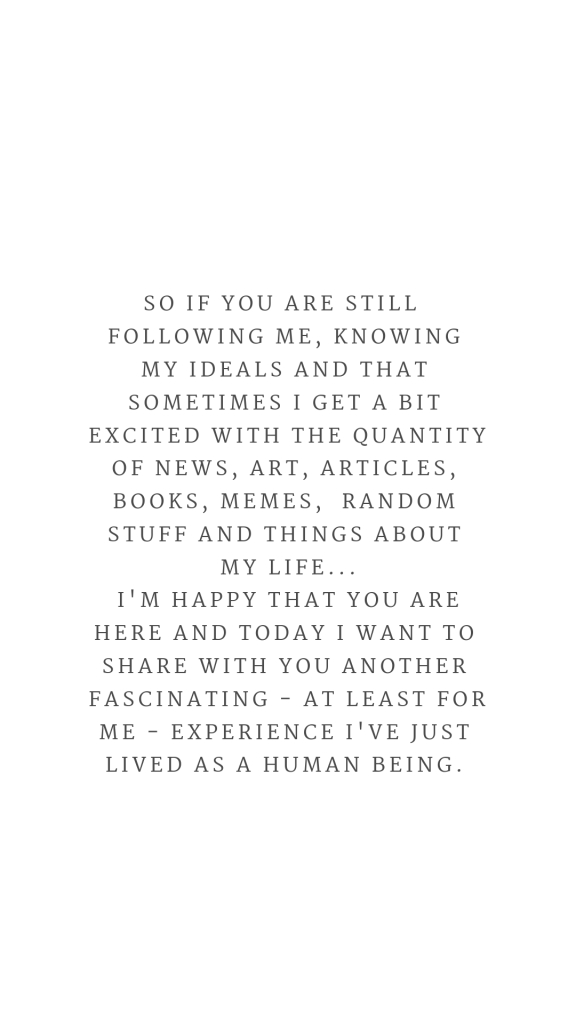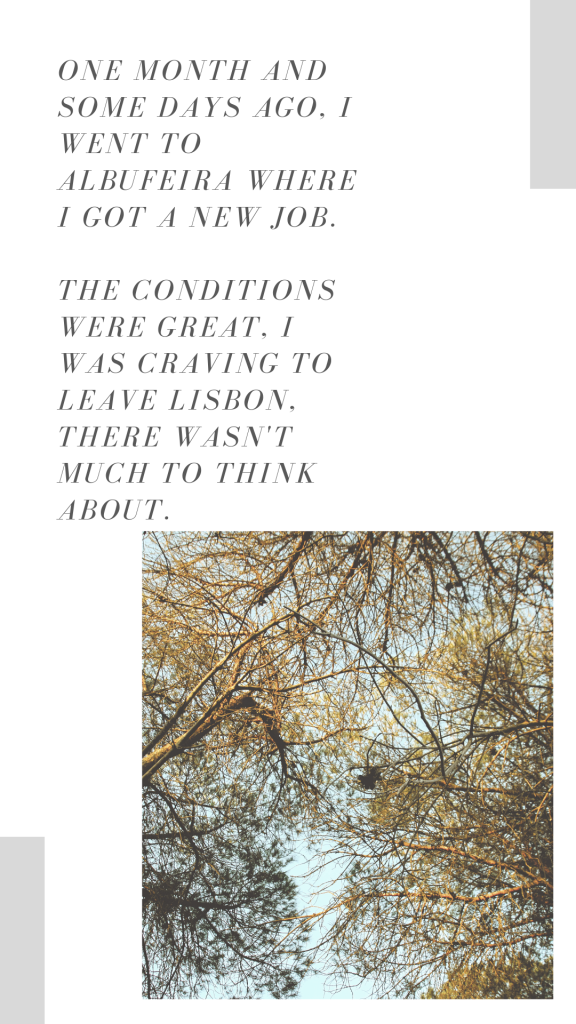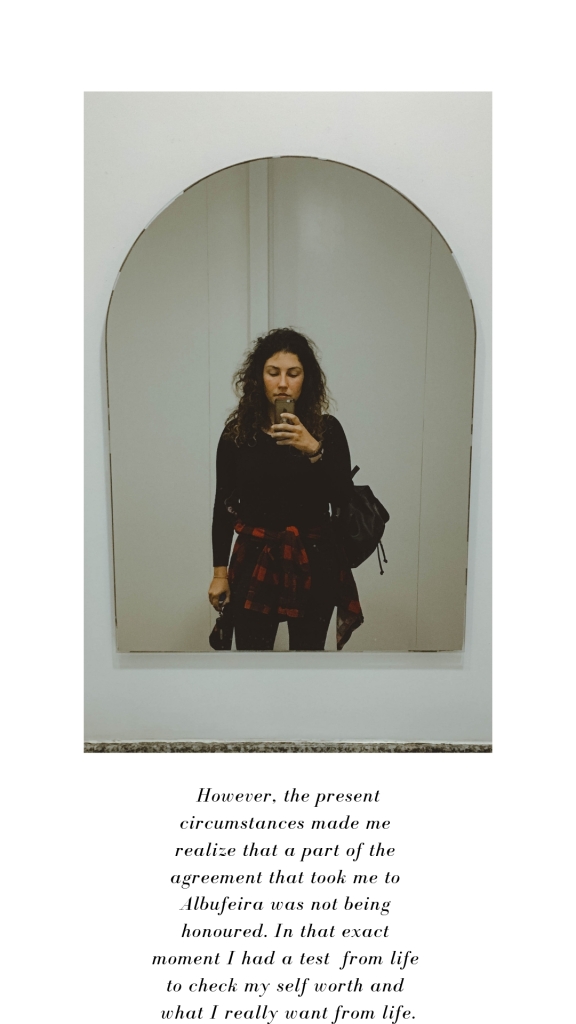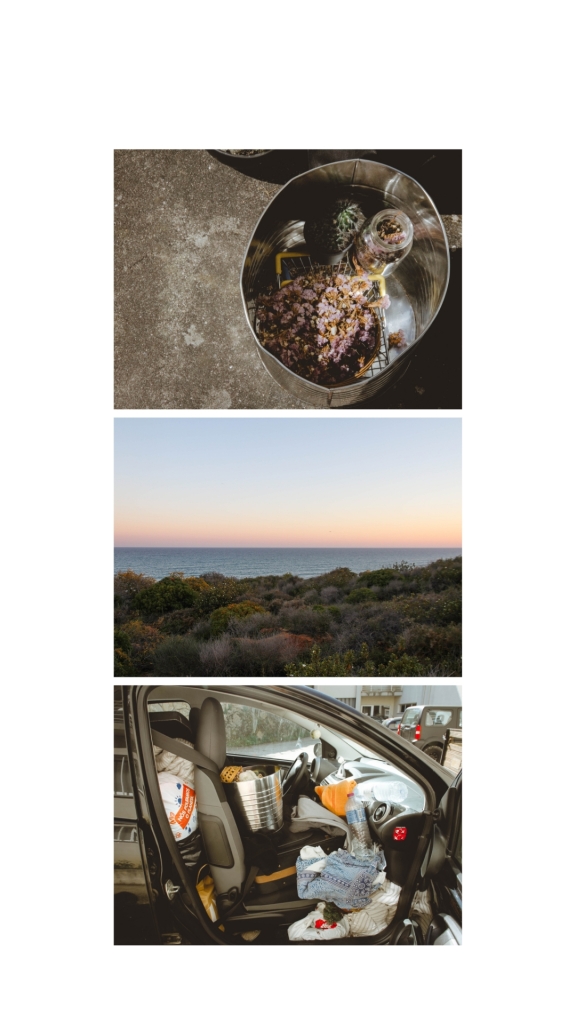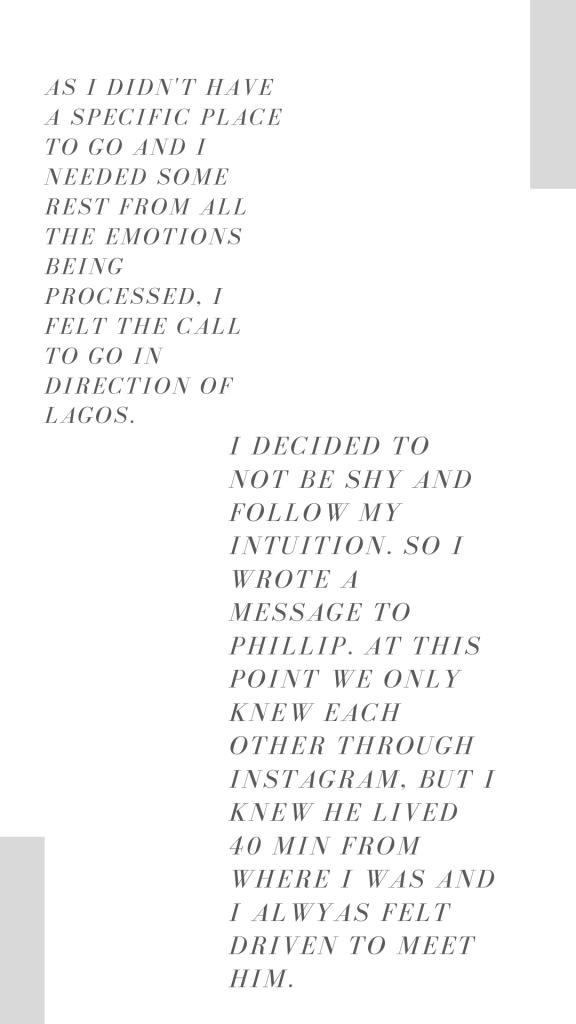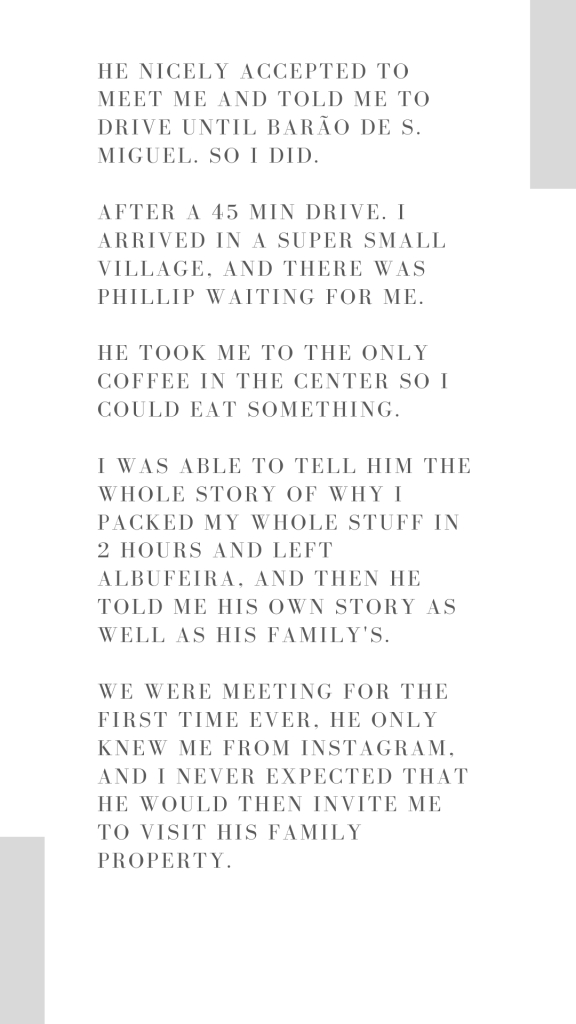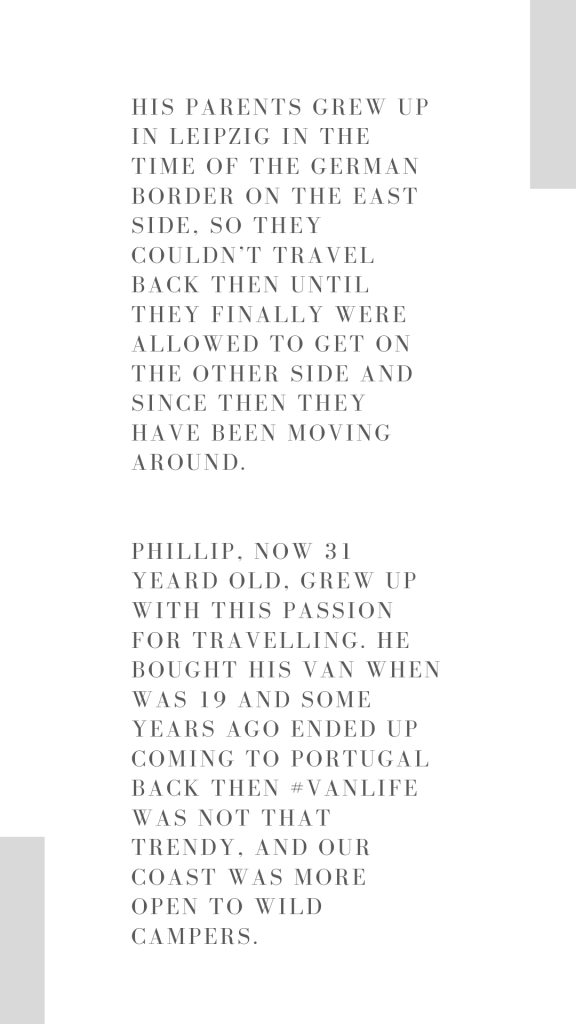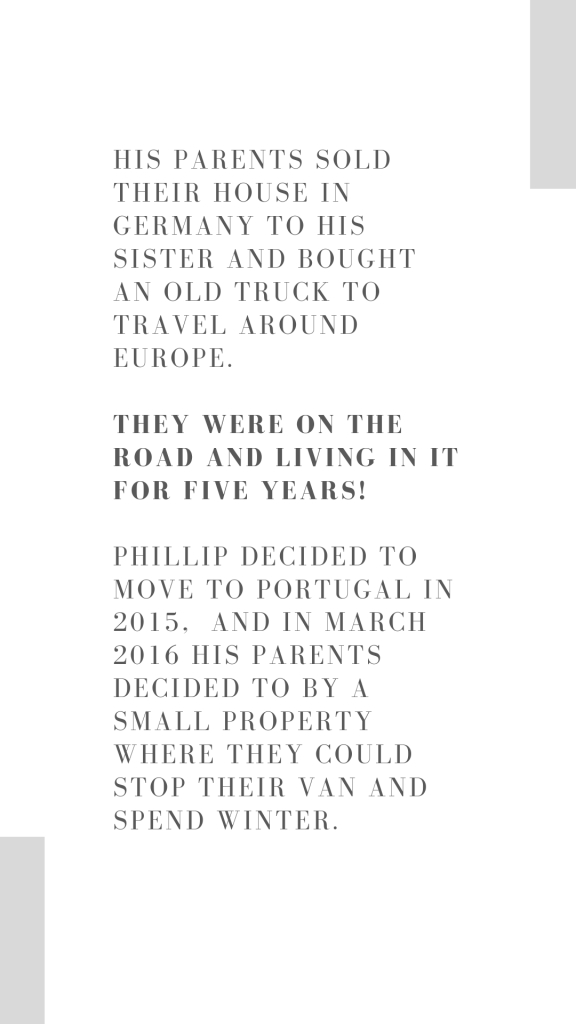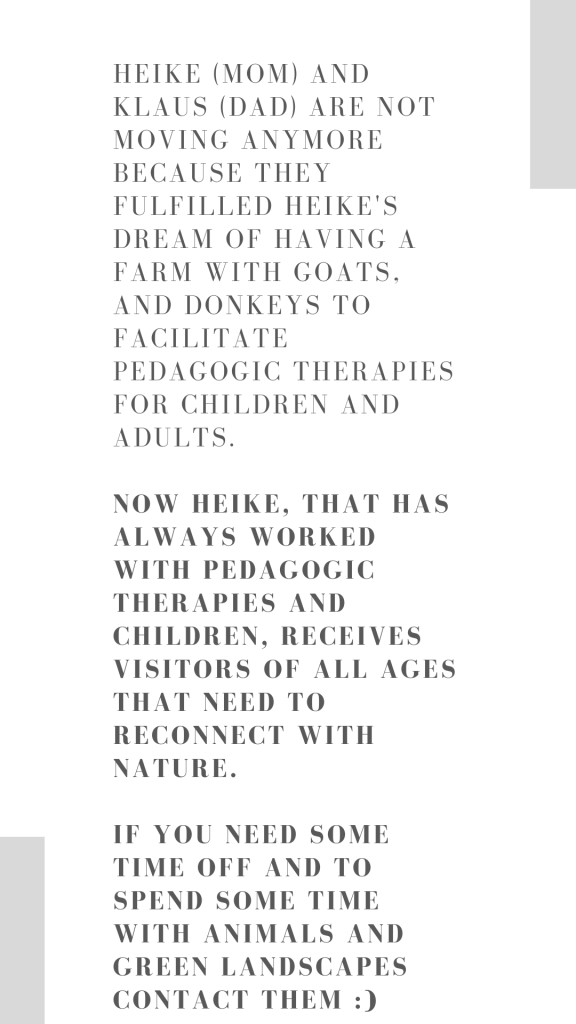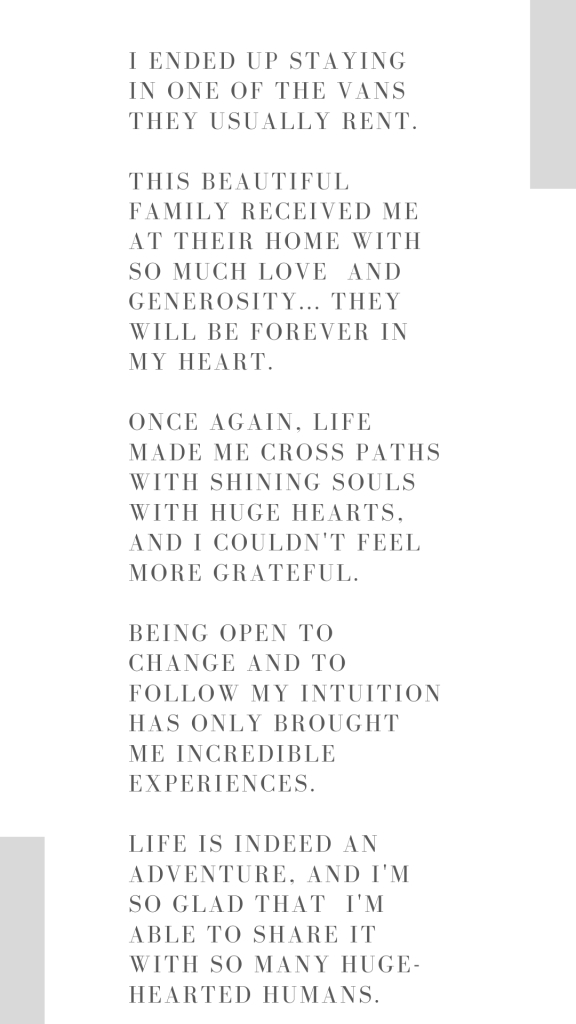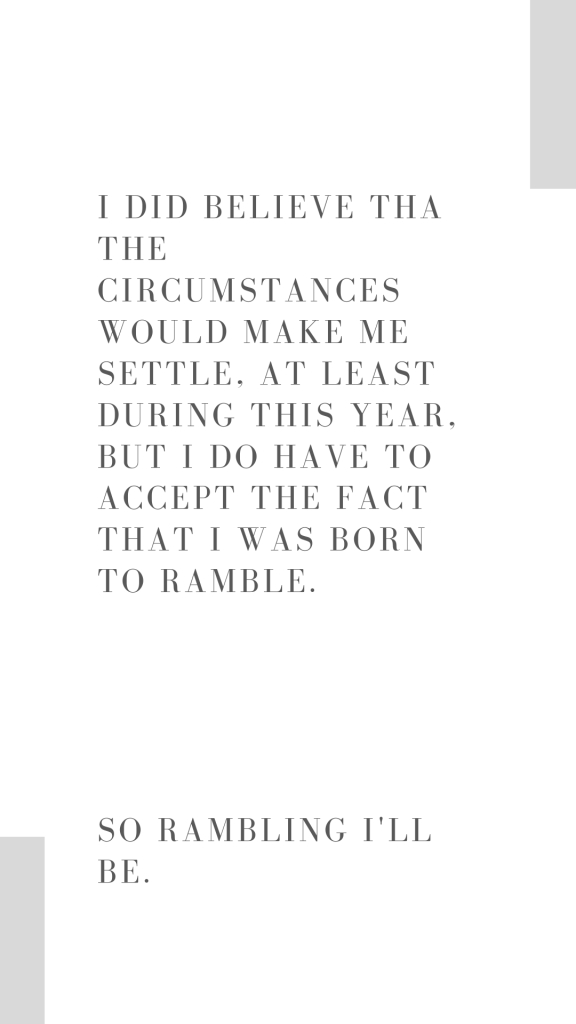26 de Abril de 2018
Estou a caminho de Mallorca, vim de Lisboa até ao Porto de boleia com o meu primo Fernando, que também vai tirar uns dias só para ele, mas em Barcelona.
Vivemos tempos de alegria. Chegou a primavera, o sol começa finalmente a aparecer e sente-se cada célula dos nossos corpos a celebrar a natureza. Sigo para a viagem menos planeada de toda a minha vida. Eu sei que já comentei o quanto adoro viajar sozinha, sem expectativas ou planos, mas desta vez abusei, abusei ao ponto de, pela primeira vez, sentir stress antes de me mandar para um aeroporto.
Cheguei duas horas antes do voo, tive tempo para ver tudo e mais alguma coisa, comprar umas prendas e comer descansada. Quando indicaram a porta de embarque desci as escadas e estava mais do que preparada para me afiambrar à fila prioritária, já que desta vez uma promoção xpto me deu essa regalia.
É precisamente nesse momento que me apercebo de que não tenho o cartão de cidadão. Socorro. Tirei tudo da mochila até que me lembrei: “tirei-o do bolso na zona de segurança”. É muito cansativo viver neste corpo, admito.
Desatei a correr até à zona dos raio-x e pedi aos seguranças que confirmassem se não teria lá ficado caído um cartão de cidadão.
“Não há aqui nada”.
Bonito. Vou perder o voo. Voltei a revirar a mochila, a apalpar-me toda, não acredito que vou perder o avião. Respira. Não faz sentido stressar, tudo vai ficar bem, não faz sentido perder o avião. Mais uns apalpões e reviravoltas e, quando faltavam cinco minutos para a porta fechar, um segurança veio a correr enquanto berrava “VAI VAI VAI”. E eu fui. Então não fui. Já não corria assim há anos.
Como os portugueses são péssimos com horários fui mais do que a tempo de embarcar na mesma exata fila interminável de sempre, já que a única prioridade que me ocorria era entrar no avião.
Toda a minha vida sou avisada que não posso colocar-me em situações de stress, mas não há médico nenhum neste mundo que algum dia venha a perceber que o meu ritmo de ser e estar é o caos em si mesmo. Daí que no meu quarto haja um quadro mal emoldurado de um Bob Dylan jovem a fumar um cigarro com a citação “I accept chaos, I’m not sure whether it accepts me.”
Para explicar esta viagem tenho de regressar a agosto do ano passado, quando conheci uma pessoa que me escancarou as portas que eu já tinha semi abertas, mas que não sabia como as explorar.
Uma das coisas que mais me fascina em relação à vida é o facto de sentir que cada pequeno passo que damos está intimamente ligado com os tropeções e saltaricos que vamos dar a seguir. Somos pequenos grãos de areia que pouco sabemos sobre o significado de tudo isto que nos rodeia e nos ultrapassa, mas se estivermos atentos aos detalhes, não é difícil perceber onde descansa a magia das coisas.
No verão passado estava prestes a mergulhar num buraco negro, no jornal em que trabalhava era altura de férias, a equipa era ainda mais pequena, os incêndios tinham-nos marcado para o resto da vida e não parava de receber chamadas com dados e informações sobre todos os possíveis erros que haviam sido cometidos por diversas frentes.
Crescemos rodeados de medos, levamos todos os dias com um banho de desastres, sangue, intrigas. Os media tornaram-se uma constante lembrança do pior que há no mundo e é-nos demasiado fácil tomar o “dark side” como garantido.
Mas não é o lado negro das coisas que me desperta. Cresci rodeada de histórias e experiências que me mostraram que a vida tem essa face estranha, que é possível sentirmos o mundo com uma agonia desmesurada e fecharmo-nos na nossa concha até que alguém nos diga ao ouvido: já passou, podes voltar.
Essa é provavelmente a fase mais difícil de quem entra na idade adulta, a altura em que nos tiram o lençol branco que nos cobria do pó até então e nos dizem “bem-vindos ao mundo”. A partir daí temos duas hipóteses: ou escolhemos cobrir-nos de pó e deixar que o bicho nos deixe os ossos carcomidos, ou decidimos aceitar que haverá sempre pó que nos cubra mas que o podemos sacudir sem alergias, sem obstipações, como um ritual de limpeza que terá de ser feito para o resto das nossas vidas.
Esta é uma decisão que nos exige coragem, entender que o caminho não vai ser sempre a subir, que vamos cair um milhão de vezes e esfolar o raio dos joelhos muitas mais vezes do que era suposto, mas que podemos sempre começar de novo e vai sempre poder ser melhor do que foi.
Era agosto e eu tinha menos do que um tostão no bolso, como é já habitual, mas tinha também uma vontade maior que eu de sair de Lisboa e ir a correr até aos que me são tudo.
Trabalhei quatro semanas seguidas para poder tirar as folgas dos fins-de-semana e decidi ir ter com alguns dos meus melhores amigos ao Sonic Blast, em Moledo.
O SB é um dos festivais mais pequenos do país mas é o meu preferido. Para não falar da localização entre o mar e um enorme pinhal, tem um cartaz incrível e um ambiente super descontraído atraído pela música, mais do que qualquer outra coisa.
Com a pressa de me fazer à estrada, nem sequer comprei bilhete para o festival. Nunca na vida teria problemas em comprar bilhete à porta, por isso foi só pegar no carro, em alguma roupa e fui. Sem tenda, comida, nada.
A Rita tinha feito match no tinder com um australiano que, pelos vistos, ia ao mesmo festival que eu e obviamente pedi-lhe que lhe dissesse que havia lugares vazios e que seria melhor que o mel dividir despesas de gasolina e portagens. O Adam lá entrou em contacto comigo e perguntou se uma rapariga australiana que ele tinha acabado de conhecer também podia ir. Que maravilha.
Quando chegou a hora de nos encontrarmos, lá estavam os dois à minha espera. Ele alto e magro, vestido de preto, sem nada que me chamasse muito a atenção. Ela de cabelo azul, óculos e braços todos tatuados, com uma t-shirt dos Black Sabbath, teve toda a minha atenção assim que a vi.
Como ia conduzir durante horas com dois desconhecidos, achei por bem assim que comecei a viagem começar por meter conversa e perguntar como que raio estavam a caminho de um festival que nem os portugueses sabem que existe.
A Katie vinha da Australia de propópsito para o Sonic Blast e depois ia aproveitar para conhecer o país, wow. O Adam estava a tentar encontrar trabalho por cá. Perguntei-lhes o que faziam e foi aí que se deu um clique que mudaria para sempre a minha percepção das coisas.
O Adam respondeu-me que era project manager, sinceramente não percebi muito bem o que é que ele pretendia encontrar por cá. Mas quando chegou a vez da Katie dizer qual era a sua profissão o cenário mudou completamente.
“Sou astróloga”.
Ao longo do meu caminho já me tinha cruzado com algumas pessoas especiais, com capacidades que pensamos não estar ao alcance de qualquer um, mas como assim uma rapariga da minha geração se apresenta como sendo astróloga, sem qualquer embaraço ou constrangimento? Deu-se um clique e a partir daí tudo o que viria da nossa amizade seria um longo caminho de partilhas e ensinamentos. A Katie viria a mostrar-se imensamente paciente com a minha inconsolável curiosidade e foi graças a ela que acabei por ler e tornar-me seguidora de várias pessoas que partilham na internet os seus conhecimentos e sensações.
Portugal tem uma cultura mística antiquíssima, mas a não ser o pessoal da treta e horóscopos humilhantes em revistas, por norma ninguém assume publicamente este tipo de gostos, capacidades, dons- não pelo menos que eu estivesse consciente disso, até então. Há sempre uma “bruxa” escondida em cada aldeia, alguma avó com conhecimentos para lá da vida, um tio que lê cartas, mas é sempre em tom de segredo, de medo, ou não tivesse havido sempre público para a queima destas pessoas em praça pública.
Desde que me conheço que o mundo do oculto e as pessoas diferentes me atraem. Por isso, foi mais do que natural que aquela viagem fosse só o primeiro nó de uma enorme amizade que nasceria a partir do pretexto de tudo isto.
Entretanto cheguei ao festival sem bilhete, feliz da vida por reencontrar os meus amigos. Tinham-me arranjado tenda onde dormir, a Mariana tratou de tudo e ficámos pela sombra fresca do pinhal enquanto toda gente se preparava para os concertos. Podia finalmente acender um e respirar o descanso de estar entre a natureza.
“Já foste trocar o bilhete por pulseira?”, perguntou-me o Souto.
“Não, tenho de comprar bilhete ainda”, respondi com a maior calma de sempre.
“Os bilhetes esgotaram Balolas” – disseram-me todos em tom alarmado.
Ri por dentro. Como assim esgotados? Foi a primeira vez que fui para um festival mandada à campeã e não podia ter tido mais pontaria. A minha solução nem sequer foi pensada, estava tão feliz por estar ali com eles que só quis aproveitar ao máximo o que me fosse possível experimentar.
A única coisa que separa o skatepark dos concertos é uma lona verde, que não só nos deixa ver lá para dentro, como também não interrompe minimamente o som que nos chega sem problemas. Foram dois dias incríveis, eu não cabia em mim de felicidade por poder desfrutar de tudo sem qualquer stress, chamada de trabalho, nuvem negra que me chovesse em cima.
Os meus amigos estavam mil vezes mais preocupados com o facto de eu não ter bilhete do que eu e, o que é certo, é que por ter de ficar à porta, reencontrei dezenas de pessoas lindas que já não via há anos e com quem não falava há mais tempo do que queria admitir. Entretanto vinham ter comigo dezenas de pessoas em pânico à procura de bilhetes.
“Não tenho, desculpa; na verdade também preciso de um” dizia antes de levar logo com um ar muito surpreendido seguido de um “E estás aqui sentada na boa?”.
Na última noite, precisamente antes da banda que eu mais queria ver, uns desconhecidos apareceram com o João, um amigo de quem gosto muito, e disseram que tinham forma de me deixar entrar. O que é certo é que entrei. Não podia estar mais agradecida à aleatoriedade e abundância que me rodeiam, afinal de contas, rendi-me às evidências para aceitar o que as circunstâncias me permitiam viver.
Não sei se já passaram por algum momento assim nas vossas vidas, mas este seria o primeiro de muitos momentos de rendição completa ao que o universo, a vida, o que lhe quisermos chamar, têm para oferecer, numa aceitação completa do que vem, com alegria e gratidão.
Mais tarde voltaria para Lisboa, depois de uns três dias bonitos com os meus pais em Afife e voltaria a encontrar a Katie. Como não sabia nada do panorama da astrologia em Portugal perguntei a um amigo e ele acabou por me falar do Luís Resina, que viria a conhecer e a entrevistar poucos dias depois.
Tenho vindo a aperceber-me que a minha missão é a de escrever e contar todas estas histórias, apresentar ao mundo todas estas pessoas que a sincronicidade e a sorte trazem até ao meu caminho, para que mais pessoas conheçam e se sintam inspiradas a procurar o tal bright side que nos querem fazer acreditar ser quase impossível existir.
É graças à Katie que hoje viajo para Mallorca, onde me aguarda um sofá oferecido pelo o Willian, amigo que conheci há 10 anos e com quem nunca mais estive, para encontrar uma das mentes mais fascinantes que me foi apresentada pela Internet, por indicação dela.
Kaypacha, um norte americano, astrólogo profissional há mais de 40 anos, que dedica-se a descrever as mudanças da humanidade através do reflexo dos movimentos dos astros e do cosmos. Assim que vi o primeiro vídeo dele soube que teria de o conhecer um dia e não descansei enquanto não fiz por vir encontrá-lo.
Sem bilhete para o curso que ele veio dar, sem muito tostão no bolso, só com um bilhete de avião e uma rendição completa ao que a vida me quiser oferecer, vim até Mallorca para perceber quem é, afinal, este tal Kaypacha.
Quando cheguei a Palma e expliquei ao Willian o que me trazia a reencontrá-lo tantos anos depois, de copo de vinho na mão e Paella do Calixto à frente, os olhos azuis dele estavam arregalados e a boca semi-aberta.
– És louca. Vais encontrar-te com ele onde?
– Nas montanhas. Queres vir? Ajudas-me a segurar na câmera.
– Ai. Olha que eu também sou maluco.
– Anda, vai ser uma experiência bonita.
– Já estou arrepiado. Vá, um brinde então.
– Incrível. Brindemos então: a todos os loucos que vão.